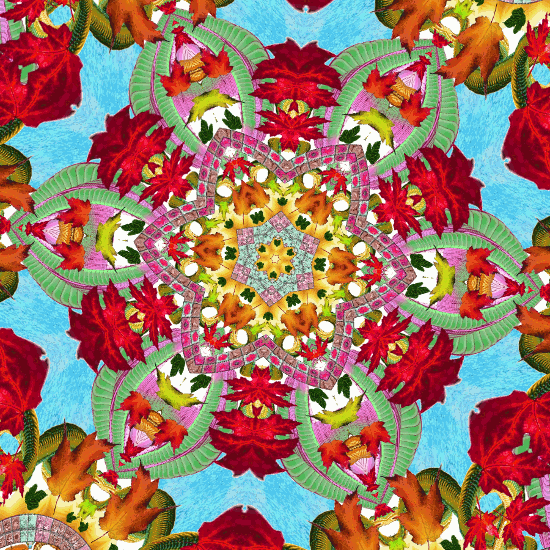Na tradição ortodoxa, que eu seguia na minha infância, a quaresma era um teatro, no qual nós, por vezes espectadores, por vezes atores, nos preparávamos para dois atos, sobejamente conhecidos e sempre repetidos e celebrados: O horror da traição e morte de Jesus, e a sua ressurreição, num claro simbolismo de que a morte é feito o casulo do qual a larva se liberta e recomeça a vida como ser alado.
Na tradição ortodoxa, que eu seguia na minha infância, a quaresma era um teatro, no qual nós, por vezes espectadores, por vezes atores, nos preparávamos para dois atos, sobejamente conhecidos e sempre repetidos e celebrados: O horror da traição e morte de Jesus, e a sua ressurreição, num claro simbolismo de que a morte é feito o casulo do qual a larva se liberta e recomeça a vida como ser alado.
Os 40 dias que antecediam ao clímax deste drama, celebrado na Semana Santa, nos preparavam, anualmente, para nos interiorizarmos e fazermos um exame de consciência sobre as nossas transgressões, tão humanas e por isso mesmo, tão repetidas. O corpo precisava ficar mais leve. E a alma idem. A carne vermelha era abolida do cardápio. E a branca também, pelos mais radicais. Peixe era permitido, mas apenas às sextas feiras.
Na quaresma não se ligava a televisão. Quando muito se permitia ouvir música clássica, em especial a obra sinfônica de Rimski-Korsakov “A grande Páscoa russa” que é linda”. Aliás, tem muito tempo que não a ouço…
Os lampadários de frente aos ícones permaneciam acesos dia e noite, vivificando a mancha amarelada do teto, com sua tênue fuligem, enquanto o avô se entregava à leitura dos evangelistas com a família reunida para ouvir, se emocionar e pedir perdão a Deus, em silêncio, pelos pecados cometidos.
A cada liturgia dominical, os fiéis também pediam perdão, uns aos outros, por qualquer falta voluntária ou involuntária, antes de receberem a comunhão. E o sacerdote , do púlpito, repetia a máxima do “amai-vos uns aos outros” antes do início dos sermões.
Depois da Páscoa, a vida seguia seu ritmo natural, mas todos se sentiam melhor para mergulhar na rotina e nas pequenas e grandes transgressões, até a próxima quaresma.
Cresci e me afastei das celebrações da igreja dos meus, mas as sementes de devoção e sacralidade que aconteceram nos templos de minha infância, seguem para sempre em meu coração. Que meu corpo seja o templo vivo para o espírito que o habita.
A cada quaresma eu me preparo para me libertar desta casca que me envolve, deste sudário de sangue e ossos para voar, momentaneamente, rumo à Ressurreição, que, quem sabe um dia alcance a mim também, neste palco da vida no qual atuamos, cada qual interpretando o seu papel. Que assim seja e assim se faça. Amém. (Ludmila) imagem Internet
Arquivos da Categoria: crônicas
Vaso de lata, flor de jasmin
Na minha infância na Aldeia de Carapicuiba, qualquer coisa que se movesse virava distração. Virava brinquedo vivo. Os alevinos do riachinho apanhados na palma das mãos e criados em potes de vidro, eram devolvidos ao seu habitat após algumas semanas ou meses, quando outros eram capturados e a brincadeira prosseguia. Ganhava quem os mantivesse maior tempo vivos.
As joaninhas faceiras (só valiam as de roupa vermelha) eram capturadas no jardim e plantadas em casa em vasinhos de jasmins e onze horas que cresciam viçosas em latas de Cera Parquetina, Óleo Corcovado abertas na horizontal, Gordura de Coco Carioca ou ainda alguma rara e cobiçada lata de Toddy, saúde e energia, que só os vizinhos mais abastados conseguiam comprar.
As formigas seguidas por horas pelas trilhas do quintal e ampliadas pelas lentes de aumento do avô, constituíram as minhas primeiras experiências com microscópio, desvendando seus corpos articulados e ferrões que às vezes me feriam.
Até as dálias plantadas nos canteiros se moviam. Eu as retirava periodicamente da terra fofa para observar a alongamento de raízes e as minhocas nervosas se contorcendo sob a luz do sol.
Os besouros unicórnios eram uma distração à parte. Capturados ao entardecer eram transformados em insetos de carga quando recebiam as caixinhas vazias de fósforos atadas com linhas finas de costura às reentrâncias de seus corpos alados. A brincadeira durava até que eles, cansados, abrissem suas pequenas asas e escapassem do trabalho escravo.
As galinhas poedeiras, presentes em todos os quintais nos encantavam com as descobertas de anatomia. Como por milagre, os ovos galados criavam os embriões, que podiam ser admirados contra a luz do sol, e, semanas depois surgiam os pintinhos, alegria de toda a criançada.
Ah! E havia também os cães e gatos. Nunca se via os bichos abandonados pelas ruas, esqueléticos, feridos e famintos. Logo eram adotados e se transformavam em membros da família. Pulguentos, alguns, é certo, mas felizes da mesma forma. As cadelas prenhas tinham os filhotes adotados já durante a gravidez e distribuídos pela vizinhança após o desmame. Raros os de raça pura. A maioria mais querida eram todos vira latas que corriam atrás dos gatos pela vila afora. Pela vida afora.
Assim cresci, numa pobreza franciscana de imigrantes recém chegados ao Brasil, mas minha infância foi um território riquíssimo de alegria e divertimento. E assim foi esse tempo retido na memória. (Ludmila)
Em Cem crônicas escolhidas e alguns contos clandestinos a ser lançado em breve.
Foto Internet
O OVO
Escrever é como tecer. É trabalho feito em tear sem que nos forneçam o esquema do desenho, o padrão a se seguir na tessitura.
Palavras como fios correm soltas pelas linhas, unem-se aos nós dos verbos, a adjetivos, a pronomes. Vez por outra o escritor se embaraça num pensamento e ao tentar desvencilhar-se se surpreende com novos pontos que atiçam sua criatividade: surgem na escrita, então, sonhos, emoções, fragmentos de memórias que o levam a outros vocábulos, aforismas e o assunto muda radicalmente de abordagem. Ele cria novas frases, associa ideias, arremata com reticências ou uma afirmação e ao reler a frase toda comemora a conquista: afinal conseguiu expor de forma clara o pensamento!
Curiosamente às vezes ocorre também o contrário. Olha-se para o texto-tecido e a sensação é a de que não era bem aquele produto final que se tinha em mente. Então só nos resta desmanchar tudo e reiniciar a obra.
Propor-se a criar algo, seguir o fluxo da inspiração e transformá-lo num desenho, numa escultura, num tapete ou num texto iguala-se ao exercício de dar à luz. Esta necessidade que possuímos de perpetuar-nos no mundo é diretamente proporcional ao medo que temos de nossa finitude. Carregamos em nós este ovo latente de possibilidades criativas que precisamos conceber. Esta afirmação me leva a um sonho que tive e que quero lhes contar:
Sonhei que estava imersa na água e dela saía vagarosamente carregando em minhas mãos em concha um ovo. Sua casca era uma membrana translúcida e firme. Uma delicadeza, iluminada por luz interna. Em seu interior estava uma jovem mulher em posição fetal. Ela me olhava com olhos desproporcionalmente grandes e eu a carregava com todo o cuidado. No trajeto tentava descobrir quem era a criatura e como o ovo foi parar em minhas mãos. Não me lembrava de tê-lo expelido, mas sentia que ele, de algum modo me pertencia.
Repentinamente eu tropecei e caí. Do interior da membrana rompida um ser alado precipitou-se para o espaço. Mas não! Não era a mesma mulher que eu carregava. Era um pássaro feito de luz e transparências. Talvez um anjo? E dentro de si carregava um ovo perfeito, concluído.
“Parir uma mulher é gravidez de alto risco”, ele me disse “A mulher tem mãos que levam direto ao coração e são capazes de desatar nós, qualquer que seja a tessitura”.
Nem tive nem tempo de me assustar.
Eu observei aquele ser dissipar-se no horizonte. E preenchida por essas sensações eu despertei.
Que sonho estranho, vocês dirão. Mas, mais estanho ainda é esta necessidade que senti de torná-lo publico. De partilhá-lo com vocês que, no mínimo devem estar pensando aí com seus botões: “Mas isto é crônica que se escreva”?
Por que não, se a inspiração é sempre uma aventura?
Crônica de meu próximo livro “Cem crônicas escolhidas e alguns contos clandestino” que será lançado brevemente e foto de Paul Constantinides para a contracapa.
Amigos Reais e Amigos Virtuais
Tenho por hábito recortar e guardar matérias de jornais e revistas que, de alguma forma, me sensibilizam. Tenho em casa um arquivo enorme de papéis amarelados pelo tempo, conservados em pastas, dos quais não consigo me desfazer. Reler esses textos me inspira, faz-me refletir sobre o cotidiano, me enternece, às vezes, outras, me entristece. Abro as dobraduras, revejo o conteúdo dos escritos, dobro novamente e torno a arquivar.
Semana passada repeti o ritual e, como de costume, separei a matéria de um grande jornal que falava sobre o “personal amigo”. Nela, o articulista me informava de que surgiu uma nova profissão. Você paga uma taxa, que varia entre R$100,00 e R$500,00 a hora, contrata o serviço e recebe a atenção de uma pessoa especializada em atenuar a sua solidão! E com uma ressalva: O personal amigo só lhe faz companhia. Nada de namoro ou sexo! É pura e simplesmente amizade!
São novos tempos! Novas relações! Novas formas de suprir carências. As pessoas passam cada vez mais tempo na Internet. Abrem-se com desconhecidos. Participam de mil e uma comunidades: face, whatsApp, twitter, repartem confidências, criam dependências, matam o tempo, mas, no final das contas, por melhor que seja “teclar” com alguém, amigo tem que ser de carne e osso. Amigo é para ter-se ao lado, poder pegar na mão, chorar no ombro, dialogar sentindo o hálito, olhando nos olhos, conversando ao vivo, entendendo melhor a si mesmo e ao mundo, pela visão do outro.
O espaço virtual, sem dúvidas, nos protege, abre inúmeras fronteiras, possibilita falar em tempo real com alguém lá das Filipinas ou de Carapicuíba, mas, ao mesmo tempo, esse ato não nos basta, bichos humanos que somos. E, bichos humanos que somos, chegamos a um tempo em que a falta de tempo é tão aterrorizante, que já não conseguimos nem ser e nem ter amigos como antigamente: Amigos para sair e tomar um chá ao final da tarde, para ir ao cinema junto, para sentar no banco de uma praça e jogar conversa fora. Amigos que nos alimentam a alma, que nos curam com a sua presença e não, simplesmente, aliviam a nossa solidão.
Amigo de verdade tem história e segredos compartilhados, tem calor humano, vibração e cheiro. Amigo de verdade, sabe ouvir e calar-se. Reconhece nossos erros sem nos julgar e vibra com nossos acertos. Amigo de verdade tem aquela voz que reconhecemos à qualquer distância, que nos conforta e nos fortalece. Voz de Claudia, de Tereza, de Dyrce, de Lucimara, de Marilda, de Maurício, de Luiza Irene, de Mirian, de Zé Winston, de Mário, de Orlando, de Mariângela, de Jussara, de Edna, de Sônia, de Celso, de Eliana, de Eliane, de Dolores, de Célia, de Nair, de Graciela, de Eloisa, de Meiri, de Benny, de Ocílio, de Magela, de Rubinho, de Van, de Carolina, de Cris, de Valdeci, de Ana Paula… Ô meus queridos amigos, que saudade de vocês!
(Ludmila Saharovsky)
Crônica publicada na Revista Absollut deste mês.
Caleidoscópio
Busco na vida, a magia. A delicadeza em meio à aridez do cotidiano, ela que espanta a rotina, que revoga a mesmice, que dissolve o tédio, que permite inesperadas descobertas: Novos sonhos, novas sinapses, trocas, encantamento. O viver é um poema contínuo que se realiza em mim a cada instante, assim, vou ocupando as moiras que tecem meu destino, com novos pontos, inusitados nós, cores e formas, alongando os fios da vida, de forma tal, que me permitam descobrir outros roteiros. Envio-lhes intermináveis novelos de linhas para que me prendam a abstratas tessituras. Preciso de horizontes instigantes que me remetam à dunas que se movem, grão a grão e possibilitem que o meu vir a ser seja repleto de ação criativa, me reinventando a cada nó. Horizontes estanques me desarmam.
Seria um jogo? Não! Penso que viver é como inserir-se num caleidoscópio. As possibilidades estão todas ali, naquele tubo onde se espelha a vida. Cabe a mim girá-lo, formando combinações diversas, agregando cores, luzes, frágeis composições que podem reagrupar-se a partir de um sopro, de um leve movimento de dedos e formar novos desenhos. Novas possibilidades de existir.
Faço de meu mundo este caleidoscópio. Muitos acham os desenhos embaralhados e se perdem nas combinações. Eu não! Sei exatamente a minha cor e forma, e descobrir o novo encaixe é instigante, porque é sempre outro desenho que se forma. Buscá-lo, em todas as suas variantes possíveis, para mim, é entender o sentido da Vida e vive-lo plenamente, sem temer o breve pulsar da felicidade.
Ludmila
Palavras/Silêncios
“O corpo é uma coisa encantada que precisa mais que comida e bebida para viver.
Ele precisa de palavras. Porque é nelas que mora a esperança” (Rubem Alves)
Amo as reflexões às quais os escritos de Rubem Alves sempre me remetem.
Penso em sua afirmativa de que “o corpo necessita de palavras que o alimentem” e divago…Será?
Não é em todas as palavras que moram a esperança, a beleza, a delicadeza.
Existem algumas, venenosas, que vão se desprendendo de nós, assim…de repente, sem qualquer compromisso que não seja o de ferir. Armas palavras.
Outras vadias, vazias soltam-se ao vento, tagareladas, esparramadas, diluídas, não deixam nem uma única pegada. Ocas palavras.
Sem âncora, sem encadeamento, sem eco, elas como que entram por um ouvido e saem pelo outro, placebos de idéias que, se não contêm em si o germe da comunicação, a intenção da partilha, do preenchimento do outro com fé e alegria… mal também não fazem. Palavras cotidianas.
Fala a mãe, fala o pai, fala o filho, fala a vizinha, a amiga, a avó, o padeiro, o pedreiro, o colega de trabalho. Falam o dia inteiro, mas… o que foi que disseram? Eu mesma não me recordo de um décimo do que matraquei, o que dizer então, do que ouvi? Rumino com meus botões: porquê falamos tanto?
Nesse mundo onde “quem não se comunica se trumbica” jamais nos ensinaram o poder de comunicação que há, também, no silêncio. Nós nunca nos concedemos um único minuto, em nossas vidas, para “ouvir” com os outros sentidos: intuir, perceber as múltiplas mensagens contidas num gesto, num olhar, num suspiro. O corpo inteiro fala!
Parece que vivemos numa época de terror generalizado ao silêncio! Ao nosso derredor precisa haver sempre algum ruído: do rádio, da TV, do walkman, do CD, da campainha do celular, do pager, tudo permanentemente ligado! E tome música, notícias, receitas, entrevistas, críticas, testemunhos, propagandas, diálogos, monólogos, gritos e sussurros. E agora, conversamos também com olhos e dedos, o dia inteiro “ligados” ao computador.
O silêncio talvez nos assuste tanto, porque nos deixa a sós conosco mesmos, a cabeça livre para pensar, os sentidos libertos para investigar, sentir, meditar, filosofar, descobrir. E, para não constatarmos o drama de que não temos qualquer assunto íntimo que nos instigue, recorremos aos sons ininterruptos que certamente nos entorpecem os sentidos e nos libertam do compromisso com outras necessidades mais sutis. Se nós não conseguimos saber da semente, da raiz, do galho, da flor e do fruto em nós, como saber a árvore que somos? Como entrar em sintonia com o mundo que nos cerca, se não ouvimos, não entendemos, não decodificamos suas linguagens de vento, de chuva, sol, lua, primavera, outono, orvalho, sereno, neblina? Se não percebemos o som de abelhas, moscas, mariposas, sapos, cigarras, grilos, riachos, cachoeiras, mares?
Ah! Que saudades de nossos antepassados que podiam afirmar com segurança que iria chover, gear ou haver longa estiagem apenas compreendendo o discurso da natureza. Eles ouviam e entendiam até a linguagem de seus ossos!
Tudo se comunica, amigos, mas não apenas por palavras. O mar tem voz, a floresta fala, o livro conta histórias. Conversam pessegueiros e violetas, cães, pássaros, cavalos, constelações. Vibra o infinito, dentro e fora de nós: a melodia das esferas…
Talvez, para tentarmos penetrar nesse mágico espaço do nascedouro das palavras – certas, consistentes, raras – necessitemos do exercício do silêncio. Quem sabe consigamos semear mais paz, amor e esperança.
Não custa tentar! (Ludmila Saharovsky)
A celebração da Morte
A morte, na minha infância de tradições russas, sempre confundiu-se com celebração.
Após breve missa cantada, na qual amigos e parentes encomendavam a alma do falecido, a família convidava a todos para o pominki – reunião em memória do morto- na qual era servido aos comensais um farto lanche, regado a muita vodca, e composto de apetitosos canapés. O arenque defumado, cortado em fatias grossas e servido sobre o pão preto, era iguaria obrigatória, além de pepinos, tomates e cogumelos em conserva, bem como os piroshkis – uma espécie de pastéis assados – de carne e de repolho. Inesquecível, pelo menos para as crianças, era o arroz doce, cozido com maçãs fatiadas, ameixas, uvas passas e enfeitado com variados confeitos de goma, formando cruzes, que recendia a velas e incenso.
Sei que nos velórios ingleses é costume servir muita cerveja e bolo, ou vinho e biscoitos do tipo pão de ló torrado no forno, para ser mergulhado em cálices de vinho do Porto. Depois os amigos levam para casa, de lembrança, um doce parecido com o nosso bem casado, envolto em papel ,com símbolos de caveiras, ossos cruzados e ampulhetas.
É no México, no entanto, que a morte é tratada com a maior naturalidade e tranqüilidade. Este convívio carinhoso e alegre com os que já partiram vem desde 1563, quando o beato Sebástian de Aparício começou uma tradição de cerimônias fúnebres junto aos índios, e que veio de encontro a costumes ancestrais há muito estabelecidos. Em todas as casas são armados altares com velas votivas, candelabros, fitas, muitas flores, incenso. São preparados pratos especiais, decorados com figurinhas de açúcar representando crânios, ossos, esqueletos, demônios. São armadas procissões de enterro com todos os seus figurantes, parecidos com nossos presépios. As famílias inteiras se envolvem, capricham na decoração, na confecção do pão dos mortos, das tortillas e feijões. Quem descreve estas cerimonias muito bem, é Guadalupe Rivera, no livro Fridas Fiestas, da editora Potter. Guadalupe, filha de Diego Rivera, viveu muitos anos com Frida Kahlo em Coyacán – México. Frida a cada ano superava-se nas comemorações em memória de sua mãe. Armava uma mesa enorme, enfeitada com caveiras e esqueletos dançantes de papier machê, que eram verdadeiras obras de arte. Guarnecia a mesa com suas frutas preferidas, com nozes, amendoins, cana de açúcar. Ao lado colocava uma imitação do túmulo feito de flores de papel, contendo o retrato da morta. Durante o dia inteiro, servia comidas tradicionais mexicanas, pães dos mortos, e biscoitos de ossinhos aos amigos que iam visitá-la.
No Brasil, tornou-se tradicional a peregrinação aos cemitérios no dia de Finados. Túmulos são lavados, consertados, enfeitados com flores e velas. Alguns centralizam verdadeiras procissões por conta de histórias de graças concedidas…Segundo relatos de Jorge Amado, na Bahia também são oferecidos quitutes específicos em velórios e recepções após missas de sétimo dia: bandejas enormes de cuscuz de milho e de tapioca, fruta-pão, banana-da- terra e batata-doce cozidas, beijus, biscoitos, broas de fubá, queijos, bules com leite, chá e café. E quando as visitas se demoram…é providenciada, para o almoço, uma bela peixada feita com leite de coco e azeite de dendê…
Os ritos, sejam sagrados ou profanos, ajudam-nos a encarar a morte de frente, e a suportar a dor do luto. O que não deixa de ser um grande aprendizado, inclusive, culinário!
(Ludmila Saharovsky)
O verbo Amar

Quem entende o significado de um termo, em sua essência, tem, com certeza, uma trajetória pessoal muito mais rica e proveitosa, pois desenvolve a capacidade de ir além da palavra escrita. Quem realmente conhece o conteúdo de um vocábulo, utiliza-o com mais força, adquire um poder peculiar, uma vez que algumas palavras possuem a faculdade de construir ou destruir outro ser humano.
Não é por acaso que o Gênesis inicia-se com a criação do céu e da terra através do Verbo, através do desejo proferido: Faça-se a Luz! E a luz se faz.
A palavra, portanto, é uma manifestação não apenas do conhecimento, como de magia, tanto que algumas delas são transmitidas em situações especiais, sussurradas, a poucos iniciados.
Sabemos que povos antigos como os egípcios, os chineses, os japoneses, possuem vários graus de escrita, destinados a diferentes grupos de indivíduos, de acordo com sua evolução espiritual e inteligência emocional.
A neurolinguística, hoje, modifica padrões de comportamento através da linguagem que atua em nosso cérebro a nível do inconsciente.
Palavras, portanto, constituem-se em iguarias raras. Precisamos aprender a degustá-las, dissecá-las, decodificá-las, penetrar em sua essência. Necessitamos de conhecê-las em sua total densidade ou completa volatilidade. Dominá-las não nos torna apenas mais ricos de significados e entendimentos; nos deixa mais sábios. Mais lapidados. Mais conscientes. Mais tolerantes. Quando descobrimos, por exemplo, que a palavra trabalho vem de tripalium – um instrumento de tortura composto de três paus, numa espécie de cruz – nossa compulsão por estarmos sempre fazendo alguma coisa, não é abalada? Não começamos a refletir sobre o sentido da ação?
Mas, voltemos ao verbo amar, que afinal de contas deu origem a esta crônica. Qual a sua raiz?
Aprendo com *Affonso Romano de Sant’Anna, que se remete a Bent Paroli, para nos ensinar que “a raiz da palavra amor é egípcia e não latina. Também nada tem a ver com o “ama” grego, embora este signifique “juntos”. Os gregos também falam de “eros”, mas a raiz dessa palavra indica “atividade”.
O vocabulário egípcio traz a raiz MR. Parece estranho. Os egípcios não usavam vogal. Mas eles escreviam assim e na hora de pronunciar, a vogal aparecia. E o fato é que MR se pronunciava “amer”, “amor”. Escrita com hieróglifos a palavra MR era representada por uma espécie de pá ou cavadeira de camponês abrindo a terra. Há um sentido agrário de fecundação cósmica. Amor, então, era como um ato de cultivar a terra.”
Este povo que reverenciava o milagre dos frutos e sementes, deixou-nos a raiz de uma palavra que hoje se vulgarizou tanto, que mal sabemos seu real conteúdo. Amar virou sinônimo de ficar, desejar, possuir, transar.
Se voltarmos, no entanto, à sua raiz primitiva, entenderemos o quanto é significativa a imagem de semear-se em terreno fértil para que os frutos não se percam na aridez, e a delicadeza deste sentimento único prevaleça!
O fato é que precisamos resgatar o exercício do amor, porque ele nos unge, ele nos transforma em matéria prima para a perpetuação dos mistérios da vida, em terra fértil para o inicio desta semeadura em nosso próprio interior, para que floresça um jardim de plantas raras chamadas: respeito, consideração, cuidado, carinho, dedicação, cumplicidade, saudade.
É isso! Um lindo dia de enamorados para todos nós.
Ludmila Saharovsky
(Crônica publicada na Revista Absollut edição maio/junho 2012)
*Sant’Anna, A. R. de. (2003). Amor, o interminável aprendizado. In A. R. de Sant’Anna. Melhores crônicas de Affonso Romano de Sant’Anna. São Paulo: Global.
Sinfonia de inverno

Começa o tempo em que tudo hiberna.
Somente as deusas ancestrais encontram-se atentas em seu mister
de bordar a noite de estrelas e coalhar as águas do mar com rendas de espumas.
Suas vozes ecoam nos campos e nas florestas em cantigas de ninar.
Dormem os pássaros e as flores.
Olho para a falésia que contém a eternidade: uma ternura fecunda perpassa-me a alma e me remete ao fogo e à lava. Eles que moldaram as montanhas antes que as florestas as vestissem de veludo e vozes.
Eternidade…esse conceito acaricia meus sonhos, na medida em que me reconheço um breve sopro no coração do tempo.
Minha memória passeia por abismos onde o eco do vento reina soberano, capturando o grito das águias e dos coiotes que compõem a sinfonia do inverno que se aproxima, grave.
E a lua surge, soberana, no céu que nos envolve.
(Ludmila)
O eterno agora

A mulher: Olhos perdidos no horizonte. Pensamentos que sobrevoam repetidos naufrágios.
A mulher: Pele tatuada pelo tempo, sentidos que a arrastam para espaços familiares repletos de alaridos, de cheiros e sabores únicos, quase mágicos, de outrora.
A mulher: Incrustada no silêncio. Ser clandestino numa cidade que a mantém ancorada na beira dos dias, desejosa de trocar palavras com a leveza com que se trocam carícias.
A mulher: Vestida de saudades!
Ela observa a tarde que cai sobre as falésias: o mar cinzento, o céu despojado de nuvens, o repetido mergulho das gaivotas em busca de alimento. Um cão correndo à volta de seu dono, temeroso de perdê-lo. Igual a ela, pensa, retornando sobre seus passos em busca de algum tênue sinal que lhe indique o perdido mar interno.
Ela retém em si esse momento. Fecha os olhos e o revê, certificando-se de que a paisagem estará sempre dentro dela, mesmo quando, distante, já não puder focá-la.
E assim, entre o sol que se põe, e o mar que se encrespa, ela viaja. Segue por um itinerário que se sobrepõe ao tempo e à memória. Lembranças de antes desta paisagem tingida pelas cores do crepúsculo. Vestígios de quando tinha asas, e seu pensamento em chamas procurava avidamente a agitação dos sentidos, a certeza de que haveria para sempre um tempo de descobertas. Tempo em que tudo era excessivo, e mesmo assim não lhe bastava. Tempo tão diferente desse, em que viaja vigiando emoções, num ritmo compassado, acompanhando a exatidão da maturidade que pulsa dentro. Buscando não mais a felicidade superficial, mas daquela outra, secreta, que lhe permita encontrar a alegria mais consistente, o existir mais pleno, a emoção mais verdadeira.
O corpo da mulher segue sem pressa. Corpo nave, entregue à plenitude e ao sonho. Tudo tão próximo e tão distante, e o distante quase na ponta de seus dedos, gravado nas linhas de suas mãos, imerso num feixe de luz e sombras.
Então, a mulher já não vê mais o mar à sua frente. Apenas o pressente. E regressando pela porta que se abre entre o ontem e o amanhã, ela ancora, tranquila, na eternidade do agora.
Ludmila Saharovsky
(crônica publicada no jornal O Valeparaibano)